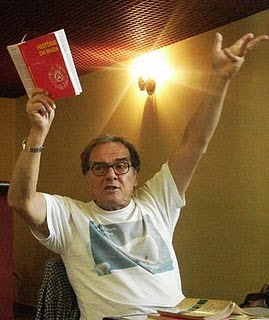Sentimentos etimologicamente buscados, amor e dor, desencantam no canto belo e sibilino daqueles instantes em que Fellini era companheiro numa poltrona à pouca luz. Um ano que acaba não diz muita coisa; é mais uma noite que termina e que será aplacada pela luz de uma manhã que aqui chega mais tarde. O rumor do cômodo ao lado acode-me no sonho. Abro os olhos tremendo ainda com as impressões palpáveis daquele corpo.
Apanho meu barco à velas que espera que o vento matutino me carregue para longe, pela long and winding road. Mas só agora me dou conta de que estradas não existem no mar e de que o vento é o único a guiar. Os instrumentos de navegação são inválidos quando se trata de etimologia e a garrafa do rosso que bebo deve ser companheira de viagem a guardar minhas falas que se vão sozinhas. Chegaremos ao mesmo ponto? Quiçá... O vinho já se foi e a ocupar seu espaço agora está esta carta, lançada no instante mesmo em que abri as velas do meu barco. Refaço a estrutura dos meus sonhos sem entender que eles só estão quando não estou eu. Volto a pensar sobre o ano que vai se acabar, mas ele já se acabou. Tudo significa e nenhum significante pode ser preso num significado; e vejo que o tempo só começa quando os calendários são rasgados, quando o sono e a vigília se cruzam à velocidade do vento. As estradas longas e sinuosas não levam a lugar nenhum, só ensinuam... estou parado no mar revoltoso, as velas que antes estavam içadas agora estão recolhidas, a etimologia se vai com a garrafa, mas ainda me resta o sentir...